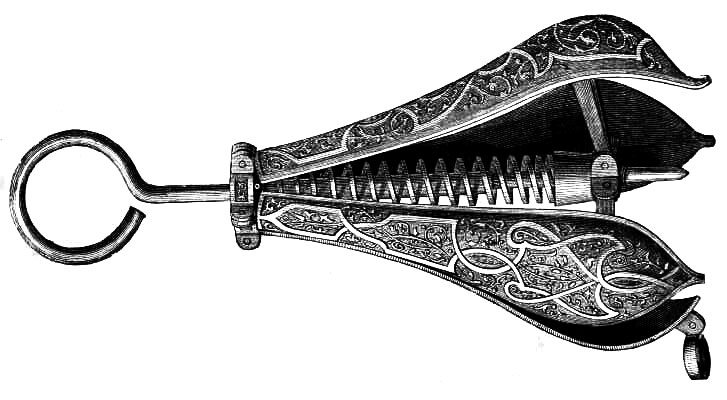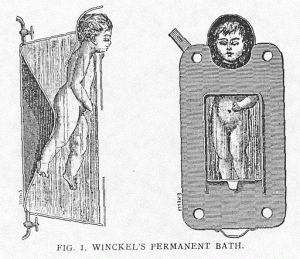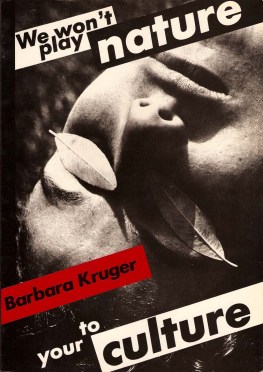Por Celia Kitzinger, traduzido livremente de Radically Speaking.
Uma das grandes percepções do feminismo da segunda onda foi o reconhecimento de que “o pessoal é político”, uma frase cunhada pela primeira vez por Carol Hanisch em 1971. Com isso, queríamos dizer que todas as nossas atividades pequenas, pessoais e do dia a dia tinham um significado político, quer fosse intencional ou não. Aspectos de nossas vidas que antes eram vistos como puramente “pessoais” – trabalho doméstico, sexo, relacionamentos com filhos e pais, mães, irmãs e amantes – eram moldados e influenciados pelo contexto social mais amplo.
O slogan… significava, por exemplo, que quando uma mulher é obrigada a ter relações sexuais com o marido, isso é um ato político, pois reflete as dinâmicas de poder no relacionamento: as esposas são propriedade a que os maridos têm total acesso.
(Rowland: 1984, p. 5)
Uma compreensão feminista de “política” significava desafiar a definição masculina de política como algo externo (ligado a governos, leis, protestos com bandeiras e marchas) em direção a uma compreensão da política como algo central para nosso ser, afetando nossos pensamentos, emoções e as escolhas aparentemente triviais do dia a dia sobre como vivemos. O feminismo significava tratar o que havia sido percebido como questões meramente “pessoais” como preocupações políticas.
Este artigo explora a forma como o slogan “o pessoal é político” é utilizado na escrita psicológica feminista, com referência especial à terapia. O crescimento das terapias feministas (incluindo livros de autoajuda, co-aconselhamento, grupos de doze passos e assim por diante, bem como terapia individual) foi rápido e atraiu críticas de muitas feministas preocupadas com suas implicações políticas (Cardea: 1985; Hoagland: 1988; Tallen: 1990a e b; Perkins: 1991). No entanto, muitas psicólogas feministas (tanto pesquisadoras quanto profissionais) afirmam explicitamente sua crença de que “o pessoal é político”.
Esse princípio tem “prevalecido como um pilar fundamental da terapia feminista” (Gilbert: 1980), e metodologias qualitativas muitas vezes têm sido adotadas pelas feministas precisamente porque permitem acesso à experiência “pessoal”, cujas implicações “políticas” podem ser extraídas por meio da pesquisa. Seria incomum encontrar uma psicóloga feminista que negasse acreditar que “o pessoal é político”, apesar da existência de críticas feministas a algumas de suas implicações (como a universalização falsa da experiência das mulheres, por exemplo, veja hooks: 1984, e a tendência irônica de algumas mulheres de perceberem as categorias “pessoal” e “político” do slogan como polarizadas e em competição, veja David: 1992). No entanto, a concordância generalizada com esse slogan entre psicólogas feministas esconde uma variedade de interpretações. Este artigo ilustra quatro dessas interpretações psicológicas divergentes de “o pessoal é político” e argumenta que, longe de politizar o pessoal, a psicologia personaliza o político, concentra a atenção na “revolução interna”, foca em “validar a experiência das mulheres” em detrimento da análise política dessa experiência e busca “empoderar” as mulheres, em vez de conceder poder político real.
Duas ressalvas antes de entrar em meu argumento principal
Primeiro, este artigo não pretende apresentar uma visão abrangente de toda a psicologia feminista – uma área imensa e em crescimento. Além disso, ao contrário de outras críticas (por exemplo, Jackson: 1983; Sternhall: 1992; Tallen: 1990a e b), este artigo não é um ataque a uma marca específica de psicologia, nem uma discussão de dentro da disciplina (por exemplo, Burack: 1992). Pelo contrário, seu objetivo é estar fora do quadro disciplinar da psicologia e chamar a atenção para os problemas políticos inerentes ao próprio conceito de “psicologia feminista”.
Segundo, “não parece justo”, disse um árbitro, “zombar das instituições que ajudam as mulheres a viverem suas vidas com menos dor.” Muitas mulheres foram ajudadas pela terapia. Já ouvi mulheres o suficiente dizerem “ela salvou minha vida” para me sentir quase culpada por desafiar a psicologia. Muitas mulheres dizem que foi apenas com a ajuda da terapia que elas se tornaram capazes de sair de um relacionamento abusivo, livrar-se de medos incapacitantes e ansiedades, ou parar o abuso de drogas. Qualquer coisa que salve a vida das mulheres, qualquer coisa que as deixe mais felizes, deve ser feminista – não é mesmo? Bem, não. É possível remendar as mulheres e capacitá-las a fazer mudanças em suas vidas sem nunca abordar as questões políticas subjacentes que causam esses problemas pessoais em primeiro lugar. “Eu costumava reclamar com meu marido para fazer o trabalho doméstico e nada acontecia”, disse uma mulher de Minnesota a Harrit Lerner (1990, p. 15); “agora estou em um programa intensivo de tratamento para co-dependência e estou me afirmando muito. Meu marido está mais prestativo porque ele sabe que sou codependente e apoia minha recuperação”. Para essa mulher, a explicação psicológica (“sou codependente e preciso me recuperar”) foi mais bem-sucedida do que a explicação feminista (o trabalho das mulheres como trabalho doméstico não remunerado para os homens, Mainardi: 1970) em criar mudanças. Com a ideia de si mesma como doente, ela conseguiu fazê-lo fazer o trabalho doméstico. Como Carol Tavris (1992) diz,
as mulheres recebem muito mais simpatia e apoio quando definem seus problemas em termos médicos ou psicológicos do que em termos políticos.
A explicação da codependência esconde o que as feministas veem como a verdadeira causa de nossos problemas – a supremacia masculina. Em vez disso, somos informadas de que a causa está em nossa própria “codependência”. Isso não é feminismo. Embora seja claro que “muitas mulheres tenham sido ajudadas pela terapia”, também é claro que muitas mulheres foram ajudadas e se sentem melhores consigo mesmas como resultado de (por exemplo) fazer dieta, comprar roupas novas ou entrar em um culto religioso. Historicamente, como aponta Bette Tallen (1990a, p. 390), as mulheres têm “procurado refúgio em instituições como a igreja católica ou o exército. Mas isso significa que essas são instituições que devem ser plenamente abraçadas pelo feminismo?” As razões por trás da corrida para a psicologia e os benefícios que ela oferece (bem como o preço que ela exige) são discutidos com mais detalhes em outro lugar (Kitzinger e Perkins: 1993). Neste artigo, foco mais estreitamente nas interpretações psicológicas do slogan “o pessoal é político” e nas implicações disso para o feminismo.
A personalização do Político
Nessa interpretação de “o pessoal é político”, em vez de politizar o “pessoal”, o “político” é personalizado. Preocupações políticas, políticas nacionais e internacionais, e grandes desastres sociais, econômicos e ecológicos são reduzidos a questões psicológicas pessoais e individuais.
Essa tradução completa do político para o pessoal é característica não apenas da psicologia feminista, mas da psicologia em geral. Nos EUA, um grupo de vinte e dois profissionais gastou três anos e $73.500 para concluir que a falta de autoestima é a causa raiz de “muitos dos principais males sociais que nos afligem hoje” (The Guardian: 13 de abril de 1990). A violência sexual contra mulheres é abordada criando sessões de treinamento de habilidades sociais e gerenciamento da raiva para estupradores (agora disponíveis em sessenta prisões na Inglaterra e no País de Gales, The Guardian: 21 de maio de 1991), e o racismo se torna algo para desabafar em uma oficina de aconselhamento (Green: 1987). Muitas pessoas agora pensam em questões sociais e políticas importantes em termos psicológicos.
Na verdade, toda a vida pode ser vista como um grande exercício psicológico. Lá em 1977, Judi Chamberlin apontou que hospitais psiquiátricos tendem a usar o termo “terapia” para descrever absolutamente tudo o que acontece dentro deles:
… fazer as camas e varrer o chão podem ser chamados de “terapia industrial”, ir a uma dança ou filme é “terapia recreativa”, drogar os pacientes é “quimioterapia” e assim por diante. Hospitais mentais de custódia, que oferecem muito pouco tratamento, frequentemente fazem referência à “terapia de ambiente”, como se o próprio ar do hospital fosse de alguma forma curativo .
(1977, p. 131)
Uma década mais tarde, com a principal clientela da psicologia não mais nos hospitais mentais, mas na comunidade, tudo em nossas vidas é traduzido para a “terapia”. Ler livros se torna “biblioterapia”; escrever (Wenz: 1988), manter um diário (Hagan: 1988) e fazer arte são todos atribuídos a funções terapêuticas. Até mesmo tirar fotos é agora uma técnica psicológica: a “fototerapeuta” feminista Jo Spence se baseou nas teorias psicanalíticas de Alice Miller (1987) e defende a cura (entre outras “feridas”), “a ferida da vergonha de classe” por meio da fotografia. E embora a leitura, a escrita e a fotografia sejam atividades comuns, em sua manifestação terapêutica elas exigem orientação especializada: “Eu não acho que as pessoas possam fazer isso com amigos ou sozinhas… elas nunca terão a segurança de trabalhar sozinhas como terão trabalhando com um terapeuta, porque elas encontrarão seus próprios bloqueios e não conseguirão superá-los” (Spence: 1990, p. 39). Embora não queiramos negar que a leitura, a escrita, a arte, a fotografia, entre outros, possam fazer algumas pessoas se sentirem melhor consigo mesmas, é perturbador encontrar tais atividades sendo avaliadas em termos puramente psicológicos. Como feministas, costumávamos ler para aprender mais sobre a história e a cultura feministas; escrever e pintar para nos comunicarmos umas com as outras. Essas eram atividades sociais direcionadas para fora; agora elas são tratadas como explorações do eu. O sucesso do que fazemos é avaliado em termos de como nos faz sentir. Condições sociais são avaliadas em termos de como a vida interior dos indivíduos responde a elas. Compromissos políticos e éticos são julgados pelo grau em que melhoram ou prejudicam nosso senso individual de bem-estar.
As terapeutas feministas agora “prescrevem” atividades políticas para suas clientes – não por seu valor político inerente, mas como remédios milagrosos. As “Diretrizes para a Terapia Feminista” oferecidas pela terapeuta Marylou Butler no Manual de Terapia Feminista (1985) incluem a sugestão de que as terapeutas feministas devem “encaminhar para centros de mulheres, grupos de conscientização e organizações feministas, quando isso seria terapêutico para as clientes” (p. 37). A Conscientização – a prática de tornar o pessoal político – nunca foi destinada a ser “terapia” (Sarachild: 1978). Mulheres que participam do ativismo feminista com o objetivo de se sentirem melhores consigo mesmas provavelmente ficarão desapontadas. Ao enviar mulheres para grupos feministas, cujos objetivos primários são ativistas e não terapêuticos, as terapeutas estão fazendo um desserviço tanto à suas clientes quanto ao feminismo.
Nossos relacionamentos também são considerados não em termos de suas implicações políticas, mas sim em termos de suas funções terapêuticas. A terapia costumava nomear o que acontecia entre um terapeuta e um cliente. Agora, como Bonnie Mann aponta, isso descreve com precisão o que acontece entre muitas mulheres em interações diárias: “qualquer atividade organizada por mulheres é encaixada em uma estrutura terapêutica. Seu valor é determinado com base em se é ou não ‘curativo'”:
Eu frequentemente vi uma conversa honesta se transformar em uma interação terapêutica diante dos meus olhos. Por exemplo: eu menciono algo que me incomodou, machucou ou foi difícil para mim de alguma forma. Algo muda. Vejo a mulher com quem estou a assumir o papel de amiga de apoio. É como se uma fita se encaixasse em seu cérebro, sua voz muda, posso vê-la começar a me ver de maneira diferente, como uma vítima. Ela começa a recitar as frases: “Isso deve ter sido muito difícil para você”, ou “Isso deve ter sido tão invalidante” ou “O que você acha que precisa para se sentir melhor com isso?” Eu conheço muito bem a fita correspondente que supostamente deve se encaixar em meu próprio cérebro: “Acho que só precisava te dizer o que estava acontecendo comigo”, ou “Ajuda ouvir você dizer isso, parece muito validador”, ou “Acho que só preciso ficar sozinha e me cuidar um pouco”.
(1987, p. 47)
As formas psicológicas de pensamento saíram do consultório do terapeuta, dos grupos de AA e dos livros de autoajuda, dos workshops de experiência e das sessões de renascimento para invadir todos os aspectos de nossas vidas. O político foi completamente personalizado.
A revolução de Dentro para Fora
Outra interpretação comum da máxima “o pessoal é político” no contexto da psicologia feminista é algo assim:
A atividade supostamente “pessoal” da terapia é profundamente política, porque aprender a se sentir melhor sobre nós mesmas, elevar nossa autoestima, aceitar nossas sexualidades e nos reconciliarmos com quem realmente somos – tudo isso são atos políticos em um mundo heteropatriarcal. Com o ódio às mulheres ao nosso redor, é revolucionário nos amarmos, curarmos as feridas do patriarcado e superarmos a autossupressão. Se todos se amassem e se aceitassem, de modo que mulheres (e homens) não projetassem mais uns nos outros seus próprios ódios reprimidos, teríamos uma mudança social real.
Este é um argumento muito comum, recentemente reiterado no livro “Revolução de Dentro para Fora” de Gloria Steinem. Como aponta Carol Sternhall em uma análise crítica, “O objetivo de toda essa psicoterapia moderna e psicodélica não é simplesmente se sentir melhor consigo mesmo – ou melhor, é, porque se sentir melhor com todas as nossas partes agora é a chave para a revolução mundial” (1992, p. 5).
Neste modelo, o “eu” é naturalmente bom, mas precisa ser desenterrado de sob as camadas de opressão internalizada e curado das feridas infligidas por uma sociedade heteropatriarcal. Apesar de suas diferenças evidentes em outras áreas, a terapeuta feminista lésbica Laura Brown (1992) compartilha a noção de “verdadeiro eu” de Gloria Steinem. Ela escreve, por exemplo, sobre a “luta da cliente para recuperar seu eu das armadilhas do patriarcado” (pp. 241-42), ao “descascar as camadas do treinamento patriarcal” (p. 242) e “curar as feridas da infância” (p. 245); na terapia com Laura Brown, uma mulher é ajudada a “se conhecer” (p. 246), a ir além de seu “eu acomodado” (p. 243) e descobrir seu “verdadeiro eu” (p. 243) (ou “eu interior fingido” p. 245) e viver “em harmonia consigo mesma” (p. 243). Na maioria da psicologia feminista, esse eu interior é caracterizado como uma linda e espontânea menininha. Entrar em contato e nutri-la é o primeiro passo para criar uma mudança social: é uma “revolução de dentro para fora”.
Esse conjunto de ideias tem raízes no “movimento de crescimento” dos anos 1960, que enfatizava a liberação pessoal e o “potencial humano”. Naquela época, a imagem central era de uma “sociedade doente” vagamente definida.
“O Sistema” foi envenenado pelo seu materialismo, consumismo e falta de preocupação com o indivíduo. Essas coisas foram internalizadas pelas pessoas; mas sob as camadas de “porcaria” em cada pessoa repousava um “eu natural” essencial que poderia ser alcançado por meio de várias técnicas terapêuticas. O que isso sugere é que a mudança revolucionária não é algo que precisa ser construído, criado ou inventado com outras pessoas, mas que é de alguma forma natural, adormecido em cada um de nós individualmente e só precisa ser liberado.
(Scott e Payne: 1984, p. 22)
A absurdidade de levar esse argumento de “revolução de dentro para fora” a sua conclusão lógica é ilustrada por um projeto, descendente de um programa terapêutico popular, que propôs acabar com a fome. Não, como poderia parecer sensato, por meio da organização de cozinhas comunitárias, distribuição de pacotes de comida para os famintos, campanhas para que países empobrecidos fossem liberados de suas dívidas nacionais ou patrocínio de cooperativas agrícolas. Em vez disso, oferece o simples expediente de fazer indivíduos assinarem cartões dizendo que eles estão “dispostos a serem responsáveis por fazer do fim da fome uma ideia cujo tempo chegou.” Quando um número não revelado de pessoas tiver assinado esses cartões, um “contexto” terá sido criado em que a fome de alguma forma acabará (citado em Zilbergeld: 1983, pp. 5–6). Claro, Laura Brown, assim como muitas outras terapeutas feministas, provavelmente também quereria desafiar a obscenidade desse projeto. No entanto, a lógica de seus próprios argumentos permite precisamente esse tipo de interpretação.
Tais abordagens estão muito distantes da minha própria compreensão de “o pessoal é político”. Eu não acredito que a mudança social aconteça de dentro para fora. Não acredito que as pessoas tenham crianças interiores esperando para serem nutridas, reparentadas, e que sua bondade natural seja liberada para o mundo, sob as camadas de opressão internalizada. Pelo contrário, como argumentei em outros lugares (Kitzinger: 1987; Kitzinger e Perkins: 1993), nossos eu interiores são construídos pelos contextos sociais e políticos em que vivemos e, se quisermos alterar o comportamento das pessoas, é muito mais eficaz mudar o ambiente do que psicologizá-las individualmente. No entanto, como Sarah Scott e Tracey Payne (1984, p. 24) apontam, “quando se trata de fazer terapia, é essencial que cada técnica seja vista pelas mulheres como seus ‘verdadeiros’ e ‘sociais’ eus como distintos.” Isso significa que o processo de tomar decisões éticas e políticas sobre nossas vidas é reduzido à suposta “descoberta” de nossos verdadeiros eus, a honra de nossos “desejos do coração”. A compreensão política de nossos pensamentos e sentimentos é ocultada, e nossas escolhas éticas são moldadas em um quadro terapêutico em vez de político. Um conjunto de condições sociais repressivas tornou a vida difícil para mulheres e lésbicas. No entanto, a solução da “revolução de dentro para fora” é melhorar os indivíduos, em vez de mudar as condições.
A psicologia sugere que só depois de se curar você mesmo, você pode começar a curar o mundo. Discordo disso. As pessoas não precisam ser seres humanos perfeitamente funcionais e auto-realizados para criar mudanças sociais. Pense nas feministas que você conhece que foram influentes no mundo e que trabalharam com afinco e eficácia pela justiça social: Todas elas se amaram e se aceitaram? A grande maioria daqueles admirados por seu trabalho político continua lutando pela mudança não porque alcançaram a autorrealização (nem para atingi-la), mas por causa de seus compromissos éticos e políticos, e muitas vezes apesar de seus próprios medos, dúvidas pessoais, angústias pessoais e auto ódio. Aqueles que trabalham para uma “revolução externa” muitas vezes não estão mais “em contato com seus verdadeiros eu” do que aqueles fixados na mudança interna: essa observação não deve ser usada (como às vezes é) para desacreditar seu ativismo, mas sim para demonstrar que a ação política é uma opção para todos nós, independentemente do nosso estado de bem-estar psicológico. Espere até que seu mundo interno esteja resolvido antes de direcionar sua atenção para o externo, e você está, de fato, “esperando pela revolução” (Brown: 1992).
Validar a Experiência das Mulheres
Uma terceira versão psicológica de “o pessoal é político”, aplicada à terapia, é mais ou menos assim:
A política se desenvolve a partir da experiência pessoal. O feminismo deriva das próprias histórias de vida das mulheres e deve refletir e validar essas histórias. As realidades das mulheres sempre foram ignoradas, negadas ou invalidadas sob o heteropatriarcado; a terapia serve para testemunhar, afirmar e validar a experiência das mulheres. Como tal, ela torna o pessoal político.
A política da terapia, de acordo com essa abordagem, não envolve mais do que “validar”, “respeitar”, “honrar”, “celebrar”, “afirmar”, “prestar atenção” ou “testemunhar” (essas palavras são geralmente usadas de forma intercambiável) a “experiência” ou “realidade” de outra mulher.
Esse processo de “validação” supostamente tem enormes implicações: “Quando honramos nossos clientes, eles se transformam” (Hill: 1990, p. 56).
Obviamente, faz muito sentido nos ouvirmos e estarmos dispostas a entender o significado da experiência de outras mulheres. Costumávamos fazer isso em Grupos de Conscientização, e agora fazemos isso na terapia. Por ter sido transformada em uma atividade terapêutica, ela agora carrega todos os riscos de abuso de poder endêmicos ao empreendimento terapêutico (Kitzinger e Perkins: 1993, capítulo 3; Silveira: 1985). Em particular, os terapeutas são seletivos sobre quais experiências irão ou não validar na terapia. Aquelas emoções e crenças de uma cliente que são mais similares às do terapeuta são “validadas”; as outras são mais ou menos sutilmente “invalidadas”.
Poucas terapeutas feministas, por exemplo, irão validar sem críticas uma sobrevivente de abuso sexual infantil que fala sobre ser a culpada pelo estupro na infância devido ao seu comportamento sedutor; em vez disso, é provável que lhe seja oferecida uma análise sobre a forma como a culpabilização da vítima opera sob o heteropatriarcado. Da mesma forma, poucas terapeutas feministas validarão a experiência de uma mulher que diz estar doente e pervertida por ser lésbica: em vez disso, como a própria Laura Brown (1992) argumenta, seus “pensamentos disfuncionais” (p. 243) serão questionados e a terapia será direcionada para modificá-los para a crença de que “o patriarcado ensina que o lesbianismo é mal como um meio de controlar socialmente todas as mulheres e reservar recursos emocionais para homens e instituições dominantes (uma análise que ofereci, em várias formas, para mulheres que questionavam em voz alta em meu consultório por que se odeiam tanto por serem lésbicas)” (Brown: 1992, p. 249). Embora afirmem “validar” todas as realidades das mulheres, na verdade, apenas um subconjunto, consistindo das realidades com as quais o terapeuta concorda, é aceito como reflexão “verdadeira” da realidade. As outras são “invalidadas”, quer como “cognições defeituosas” (Padesky: 1989) ou como “distorções patriarcais” (Brown: 1992, p. 242).
Em outras palavras, toda essa conversa sobre “validar” e “honrar” a realidade das clientes é um disfarce fino para a moldagem terapêutica da experiência das mulheres em termos das próprias teorias do terapeuta.
De qualquer forma, a “experiência” é sempre percebida por meio de uma estrutura teórica (implícita ou explícita) dentro da qual ganha significado. Sentimentos e emoções não são simplesmente respostas imediatas, não socializadas e auto-autenticadoras. Eles são socialmente construídos e pressupõem certas normas sociais. A “experiência” nunca é “bruta”; ela está embutida em uma teia social de interpretação e reinterpretação. Ao encorajar e perpetuar a noção de “experiência” pura, não corrompida e pré-socializada e emoção natural surgindo de dentro, os terapeutas disfarçaram ou obscureceram as raízes sociais de nossos “eus internos”. Colocar a “experiência” além do debate dessa maneira é profundamente antifeminista precisamente porque nega as fontes políticas da experiência e as torna puramente pessoais. Quando a psicologia simplesmente “valida” emoções específicas, ela as retira de um quadro ético e político.
Empoderamento
Uma quarta interpretação psicológica de “o pessoal é político” se baseia na noção de “empoderamento”. Ela segue mais ou menos assim:
A terapia nos capacita a agir politicamente. Elevar a conscientização pessoal por meio da terapia permite que os indivíduos liberem suas energias psíquicas em direção a uma mudança social criativa. Através da terapia, lésbicas podem adquirir tanto a consciência feminista quanto a autoconfiança para se envolver em ação política. Muitas ativistas políticas radicais feministas são empoderadas a continuar através de seu auto cultivo contínuo na terapia.
Aquelas em terapia muitas vezes usam essa justificativa: de acordo com Angela Johnson (1992, p. 8), a terapia (junto com a escalada) “me dá energia para continuar meu ativismo com renovado entusiasmo.” E as terapeutas concordam. De acordo com a psicóloga clínica Jan Burns (1992, p. 230), escrevendo sobre a psicologia do atendimento à saúde lésbica, “parece intuitivamente razoável que um indivíduo possa preferir se envolver na autoexploração antes de escolher se envolver em ações mais políticas, e pode de fato precisar disso antes de ser capaz de tomar outras medidas”. Laura Brown (1992) diz que muitos de seus clientes “têm muito pouco a contribuir para a luta maior da qual muitos estão desengajados quando os vejo pela primeira vez” (p. 245). Sua cliente, “Ruth”, foi ajudada a entender que a “cura final reside em sua participação em uma mudança cultural, não apenas pessoal” (p. 246) e Laura Brown mostrou a ela como “levar seu processo de cura para uma esfera mais ampla” (p. 245). Como resultado da terapia, suas “energias” foram “liberadas” (p. 245) e ela se tornou uma palestrante, poetisa e professora sobre mulheres e guerra, além de se envolver em ativismo público contra a guerra. Da mesma forma, a psicóloga clínica Sue Holland (1991), em um artigo intitulado “Dos sintomas privados à ação pública”, promove um modelo de terapia no qual o cliente passa de “paciente/vítima ‘doente’ e passivo” no início do tratamento para o “reconhecimento da opressão localizada no ambiente objetivo”, o que leva a um “desejo coletivo de mudança” em que “energias psíquicas podem… ser direcionadas para inimigos estruturais” (p. 59).
De acordo com essa interpretação, o “pessoal” consiste em “energias psíquicas” (nunca claramente definidas) que operam de acordo com um modelo hidráulico. Há uma quantidade fixa de “energia” que pode ser bloqueada, liberada ou redirecionada por outros canais. O “político” é simplesmente um desses “canais”. A terapia pode (e alguns diriam que deve) direcionar a energia feminista ao longo de “canais políticos”. Muitas vezes, é claro, ela não faz isso, e as mulheres permanecem perpetuamente focadas internamente, um problema notado com pesar pelas terapeutas lésbicas/feministas mais radicais. Mas, segundo elas, sua terapia resulta em suas clientes se tornando ativas politicamente.
Longe de incorporar a noção de que “o pessoal é político”, essas ideias dependem de uma separação radical entre os dois. O aspecto “pessoal” da terapia é distinguido do trabalho “político” de participar de marchas, e ao terem separado o “pessoal” e o “político” dessa maneira, os dois são então examinados quanto ao grau de correlação.
O argumento de “empoderamento” ignora totalmente a política da própria terapia. É visto simplesmente como um hobby (como a escalada) ou uma atividade pessoal sem implicações éticas ou políticas em si mesma. Desprovido de significado político intrínseco, é avaliado apenas em termos de suas consequências presumidas para a “política” – definida em termos da velha variedade de bandeira acenando do antigo movimento de esquerda masculino. Se “o pessoal é político”, o próprio processo de fazer terapia é político, e esse processo (não apenas seus resultados alegados) deve ser criticamente avaliado em termos políticos.
Em conclusão, e apesar da frequência com que as terapeutas feministas afirmam rotineiramente que “o pessoal é político”, parece completamente errado afirmar que esse objetivo é um “pilar da terapia feminista” (Gilbert: 1980). Certamente, as noções de “revolução de dentro”, a importância de “validar” a realidade das mulheres e “empoderar” as mulheres para o ativismo político são centrais para o pensamento de muitas psicólogas feministas. Essas ideias sobrepostas e inter-relacionadas estão entrelaçadas em grande parte na teoria e na prática psicológica lésbica/feminista. No entanto, tais noções estão longe da perspectiva radical feminista de que “o pessoal é político” e muitas vezes são interpretadas em contradição direta com essa perspectiva. Muitas vezes, promovem conceitos ingênuos dos mecanismos pelos quais a mudança social é alcançada; envolvem a aceitação acrítica de “verdadeiros sentimentos” e/ou “reinterpretações” manipulativas da vida das mulheres em termos preferidos pelo psicólogo; levam as mulheres a reverter a definições “externas” de política em contraposição ao aspecto “pessoal” da terapia; e nos deixam carentes de linguagem ética e política. Reconhecer que o pessoal realmente é político significa rejeitar a psicologia.
Reconheço que algumas mulheres cuja política eu admiro e respeito não rejeitaram a psicologia: muitas estão “em terapia” ou são provedoras de terapia. Essa observação às vezes é usada para contestar nossos argumentos. Depois de ler um capítulo (Kitzinger e Perkins: 1993) que cita o processo judicial de Nancy Johnson contra o governo dos EUA por condenar as pessoas de Utah ao câncer (por causa do armazenamento nuclear), um leitor comentou que Nancy Johnson agora trabalha como curandeira psíquica de uma maneira que eu provavelmente consideraria politicamente problemática. “Acho que a situação é mais complicada do que você apresentou: Feminismo e psicologia não parecem ser mutuamente exclusivos”, disse ele. Obviamente, ativistas feministas às vezes são praticantes ou consumidoras de psicologia: muitas feministas claramente acham possível incluir ambos em suas vidas. Mas, assim como os defensores da saúde às vezes fumam cigarros; os ecologistas às vezes jogam lixo; e os pacifistas às vezes batem em seus filhos. A coexistência observada de duas visões ou comportamentos na mesma pessoa não os torna lógicamente éticos ou politicamente compatíveis.
O debate sobre a compatibilidade ética e política das diferentes ideias e comportamentos das pessoas é uma parte importante do que a discussão política feminista é. Meu argumento é que o feminismo e a psicologia não são eticamente ou politicamente compatíveis. Não significa necessariamente que as mulheres envolvidas na psicologia sejam apolíticas ou antifeministas. Muitas levam a sério o feminismo e estão profundamente engajadas em atividades políticas. Mas, na medida em que organizam suas vidas com base em ideias psicológicas e na medida em que limitam seus pensamentos e ações ao que aprendem da psicologia, estão negando o princípio feminista fundamental de que “o pessoal é político”.
KITZINGER, Celia. Terapia e como ela Minimiza a Prática do Feminismo Radical. IN: BELL, D.; KLEIN, R. (eds) Radically Speaking: Feminism Reclaimed. Melbourne: Spinifex Press, 1996. Tradução livre.
REFERÊNCIAS
Burack, Cynthia. (1992). A House Divided: Feminism and Object Relations Theory. Women’s Studies International Forum, 15(4), 499–506.
Burns, Jan. (1992). The Psychology of Lesbian Health Care. In Paula Nicolson and Jane Ussher (Eds.) The Psychology of Women’s Health and Health Care. London: Macmillan.
Butler, Marylou. (1985). Guidelines for Feminist Therapy. In LynnBravo Rosewater and Lenore Walker (Eds.) Handbook of Feminist Therapy. New York: Springer.
Brown, Laura. (1992). While Waiting for the Revolution: The Case for a Lesbian Feminist Psychotherapy. Feminism and Psychology, 2(2), 239–53
Cardea, Caryatis. (1985). The Lesbian Revolution and the 50-Minute Hour: A Working-Class Look at Therapy and the Movement. Lesbian Ethics, 1(3), 46–68.
Chamberlin, Judy. (1977). On Our Own. London: MIND Publications.
David, Barbara. (1992). Personal/Political Polarisation. Journal of Australian Lesbian Feminist Studies, 2(1), 24–41.
Gilbert, L.A. (1980). Feminist Therapy. In Annette M.Brodsky and Rachel Hare-Mustin (Eds.) Women and Psychotherapy: An Assessment of Research and Practice. New York: Guilford Press.
Green, Margaret. (1987). Women in the Oppressor Role: White Racism. In Sheila Ernst and Marie Maguire (Eds.) Living with the Sphinx: Papers from the Women’s Therapy Centre. London: The Women’s Press.
Hagan, Kathy. (1988). Internal Affairs: A Journalkeeping Workbook for Self Intimacy. San Francisco: Harper Row.
Hoagland, Sarah Lucia and Julia Penelope. (1988). For Lesbians Only: A Separatist Anthology. London: Onlywomen Press.
hooks, bell. (1984). Feminist Theory: From Margin to Centre. Boston, Massachusetts: South End Press.
Hill, Marcia. (1990). On Creating a Theory of Feminist Therapy. In Laura Brown and Maria Root. (Eds.) Diversity and Complexity In Feminist Therapy: Part 1 Special Issue of Women and Therapy, 9(1–2), 56–65.
Jackson, Stevi. (1983). The Desire for Freud: Psychoanalysis and Feminism. Trouble and Strife, 1 32–41.
Johnson, Angela. (1992, January). For Feminists, Talk is Cheap: But in Therapy It’ll Cost You $38 an Hour (and That’s on a SlidingScale). Of Our Backs, 8–9.
Kitzinger, Celia. (1987). The Social Construction of Lesbianism. London: Sage.
Kitzinger, Celia, and Rachel Perkins. (1993). Changing Our Minds: Lesbian Feminism and Psychology. London: OnlywomenPress; New York: New York University Press.
Lerner, Harriet. (1990). Problems for Profit. Women’s Review of Books, VII(7), 15–16.
Mainardi, Pat. (1970). The Politics of Housework. In Robin Morgan(Ed.) Sisterhood is Powerful. New York: Vintage Books.
Mann, Bonnie. (1986). The Radical Feminist Task of History: Gathering Intelligence in Nicaragua. Trivia, 9 46, 60.
Miller, Alice. (1987). For Your Own Good: The Roots of Violence in Child Rearing. London: Virago.
Padesky, Christine A. (1989). Attaining and Maintaining Positive Self-Identity: A Cognitive Therapy Approach. Women and Therapy, 8 145–56.
Perkins, Rachel. (1991). Therapy for Lesbians? The Case Against. Feminism and Psychology, 1(3), 325–28.
Rowland, Robyn. (1984). Women Who Do and Women Who Don’t Join the Women’s Movement. London: Routledge Kegan and Paul.
Sarachild, Kathie. (1978). Consciousness-Raising: A Radical Weapon. In Redstockings (Eds.) Feminist Revolution. New York: Random House.
Scott, Sarah and Tracy Payne. (1984). Underneath We’re all Lovable: Therapy and Feminism. Trouble and Strife, 3 21–24.
Spence, Jo. (1990, July). Sharing the Wounds. Interviewed by J.Z. Grover in Women’s Review of Books VII, 38–9.
Sternhall, Carol. (1992). Review of Gloria Steinem’s Revolution from Within. Women’s Review of Books, IX(9), 5–6.
Silveira, Jeannette (now “Fox”). (1985). Lesbian Feminist Therapy. Lesbian Ethics, 1(3), 22–27.
Tallen, Bette. (1990a). Twelve Step Programs: A Lesbian Feminist Critique. NWSA Journal, 2(3), 390–407.
Tallen, Bette. (1990b). Codependency: A Feminist Critique. Sojourner, 15 20–1.
Tavris, Carol. (1992, February 20). Has Time Stood Still for Women? Los Angeles Times.
Wenz, Kathie. (1988). Women’s Peace of Mind: Possibilities in Using the Writing Process in Counselling. Association for Women in Psychology, Arizona Chapter Regional Conference, Arizona State University.
Zilbergeld, B. (1983). The Shrinking of America: Myths of Psychological Change. Houghton Mifflin.