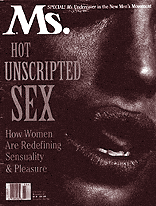Sheila Jeffreys1
A edição de novembro/dezembro de 1995 da revista Ms.2, com o título de capa SEXO QUENTE E ESPONTÂNEO, mostrava o close de uma mulher negra lambendo seus lábios pintados. A despeito de todo esforço feminista que tem sido feito nos últimos 25 anos para criticar e contestar a construção supremacista masculina do sexo, nenhum dos quatro artigos da revista fazia menção a todos os outros aspectos da vida e do status social da mulher. Em destaque em um dos artigos estava uma frase do livro de Barbara Seaman de 1972, intitulado Livre e Mulher:
“O orgasmo livre é um orgasmo que você gosta, em qualquer circunstância”.
Julgando por essa edição de Ms., e pelas prateleiras de contos eróticos para mulheres em livrarias feministas, uma política de orgasmo irreflexiva parece ter se estabelecido.
No final da década de 1960 e no começo da década de 1970, acreditava-se amplamente que a revolução sexual, ao libertar a energia sexual, tornaria todos livres. Eu me lembro de Maurice Girodias, que publicou A História do O em Paris pela Olympia Press, dizendo que a solução para regimes políticos repressivos seria postar pornografia em todas as caixas de correio. Orgasmos melhores, proclamou o psicanalista austríaco Wilhelm Reich, criariam a revolução. Naqueles tempos inebriantes, muitas feministas acreditavam que a revolução sexual estava intimamente ligada à libertação das mulheres, e elas escreviam sobre como orgasmos poderosos trariam poder às mulheres.
Dell Williams é citado em Ms. como tendo aberto uma sex shop em 1974 exatamente com essa ideia, a de vender brinquedos sexuais para mulheres:
“eu queria transformar as mulheres em seres sexuais poderosos… Eu acreditava que mulheres orgásmicas poderiam mudar o mundo.”
Desde os anos 60, sexólogos, libertários sexuais e empresários da indústria do sexo procuraram discutir o sexo como se fosse completamente dissociado da violência sexual e não tivesse nenhuma relação com a opressão de mulheres. Enquanto isso, teóricas feministas e ativistas antiviolência aprenderam a analisar o sexo politicamente. Nós vimos que o domínio masculino sobre os corpos de mulheres, sexualmente e reprodutivamente, provê a base da supremacia masculina, e que a opressão na sexualidade e através dela diferencia a opressão de mulheres da de outros grupos.
Se nós temos alguma chance de libertar as mulheres do medo e da realidade do abuso sexual, a discussão feminista da sexualidade deve incorporar tudo que sabemos sobre violência sexual ao que pensamos sobre sexo. Mas atualmente conferências feministas oferecem workshops separados, em locais diferentes, de como aumentar o “prazer” sexual e de como sobreviver à violência sexual – como se esses fenômenos fossem isolados. Mulheres que se intitulam feministas agora afirmam que a prostituição pode ser benéfica às mulheres, para expressar sua “sexualidade” e fazer escolhas de vida empoderadoras. Outras promovem às mulheres práticas e produtos da indústria do sexo com fins lucrativos, na forma de striptease lésbico e parafernália de sadomasoquismo. Existem agora setores inteiros de comunidades femininas, lésbicas e gays onde qualquer análise crítica da prática sexual é vista como um sacrilégio, estigmatizada como “conservadorismo”. A liberdade é representada como a conquista de orgasmos mais intensos e melhores por qualquer meio possível, incluindo “leilões sexuais”, prostituição de mulheres e homens, e danificação física permanente como branding. Formas tradicionais de sexualidade supremacista masculina baseadas na dominação e submissão e a exploração e objetificação da classe escravizada de mulheres estão sendo celebradas por suas possibilidades excitantes e “transgressoras”.
Bem, a pornografia está nas caixas de correio, e os artefatos para orgasmos cada vez mais poderosos estão prontamente disponíveis através da indústria internacional do sexo. E em nome da libertação feminina, muitas feministas hoje em dia estão promovendo práticas sexuais que – longe de revolucionar e transformar o mundo – estão profundamente envolvidas nas práticas do bordel e da pornografia.
Como isso pode ter acontecido? Como pode a revolução das mulheres ter entrado em curto-circuito? Eu sugiro que há quatro razões.
Razão Número 1
Vítimas da indústria do sexo tornaram-se “experts” do sexo
O capitalismo sexual, que encontrou uma forma de transformar em bem consumível praticamente todo ato de subordinação sexual imaginável, encontrou até mesmo uma forma de remodelar e reciclar algumas de suas vítimas. Como resultado, um grupo de mulheres que têm uma história de abuso e aprenderam sua sexualidade servindo aos homens na indústria do sexo agora podem, frequentemente com o patrocínio de empresários homens da indústria do sexo, promover-se como educadoras sexuais nas comunidades lésbicas e feministas. Algumas dessas mulheres “bem-conceituadas” – que dificilmente representam a maioria das vítimas da indústria do sexo – conseguiram lançar revistas como a On Our Backs (para praticantes de ‘sadomasoquismo lésbico’) e montar negócios de striptease e pornografia. Muitas mulheres aceitaram erroneamente essas mulheres, antes prostituídas, como “experts” sexuais. Annie Sprinkle e Carol Leigh, por exemplo, reintroduziram práticas misóginas da indústria do sexo em comunidades femininas. Essas mulheres lideraram a ridicularização direcionada àquelas de nós que disseram que o sexo pode e deve ser diferente.
Ao mesmo tempo, algumas mulheres que lucraram com o livre mercado capitalista nos anos 80 exigiram igualdade sexual e econômica em relação aos homens. Elas escaparam, e agora querem usar as mulheres como homens o fazem, então consomem pornografia e demandam por clubes de striptease e bordéis onde mulheres as sirvam. Essa não é uma estratégia revolucionária. Não há aqui uma ameaça ao privilégio masculino, ou uma chance de libertar outras mulheres de seu status sexual subordinado. E, mais uma vez, os homens se tornaram o padrão para todas as práticas sexuais.
Mulheres anteriormente prostituídas que promovem o sexo da prostituição – mas que agora são pagas para palestrar e publicar – passam uma mensagem que até mesmo algumas feministas consideraram mais palatável que todas as visões e ideias que nós compartilhamos sobre como transformar o sexo, como nos amarmos em igualdade como base para um futuro no qual as mulheres poderiam ser realmente livres.
Razão Número 2
O sexo da prostituição foi aceito como o modelo padrão para sexo
Nós não podemos construir uma sexualidade que torne possível que mulheres vivam sem terrorismo sexual sem abolir o abuso de mulheres pelos homens na prostituição. Dentro do movimento feminino, no entanto, o sexo da prostituição tem sido defendido e promovido. Shannon Bell em Reading, Writing and Rewriting the Prostitute Body (1994) argumenta que a mulher prostituída deve ser vista como “trabalhadora, curadora, representante sexual, professora, terapeuta, educadora, minoria sexual e ativista política.” Nesse livro a representante das Prostitutas de Nova Iorque, Veronica Vera, é citada dizendo que deveríamos pensar as profissionais do sexo como “praticantes de um ofício sagrado”, afirmando que sexo (presumidamente qualquer tipo de sexo incluindo o sexo da prostituição) é uma “ferramenta de poder curativo e construtivo”. Mas na verdade o mecanismo mais poderoso hoje em dia para a construção da sexualidade masculina é a indústria do sexo.
A prostituição e sua representação na pornografia criam uma sexualidade agressiva que requer a objetificação de uma mulher. Ela é transformada em uma coisa que não merece o respeito que é devido a outro indivíduo senciente. A prostituição mantém uma sexualidade na qual é aceitável para o cliente obter “prazer” às custas de e no corpo de uma mulher que se dissocia para sobreviver. Esse é o modelo de como o sexo é concebido na sociedade supremacista masculina, e sexólogos construíram suas carreiras sobre esse modelo. Masters e Johnson, por exemplo, desenvolveram suas técnicas de terapia sexual a partir das práticas de mulheres prostituídas que eram pagas para fazer com que homens idosos, bêbados ou simplesmente indiferentes tivessem ereções e pudessem penetrá-las. Como Kathleen Barry apontou em A Prostituição da Sexualidade, a prostituição constrói uma sexualidade de dominação masculina/submissão feminina em que a identidade e o bem-estar da mulher, sem mencionar seu prazer, são vistos como irrelevantes.
A prostituição é um negócio poderoso que está rapidamente se tornando globalizado e industrializado. Mais da metade das mulheres prostituídas em Amsterdã, por exemplo, são traficadas, ou seja, levadas para lá, muitas vezes após serem enganadas, de outros países e são frequentemente mantidas em condições de escravidão sexual. Mulheres australianas são traficadas para a Grécia; mulheres russas para boates de striptease em Melbourne; mulheres birmanesas para a Tailândia; e mulheres nepalesas para a Índia. Milhões de mulheres em países de Primeiro Mundo e muitas mais nos países de Terceiro Mundo são submetidas ao abuso de terem seus corpos violados por mãos e pênis indesejados. Mulheres prostituídas sentem-se tão mal vivenciando esse abuso sexual quanto qualquer outra mulher. Elas não são diferentes.
Espera-se que mulheres e crianças prostituídas suportem muitas das formas de violência sexual que feministas consideram inaceitáveis no ambiente de trabalho e em suas casas. Assédio sexual e intercurso sexual indesejado são a base do abuso, mas mulheres prostituídas devem receber ligações obscenas de tele-sexo também. Elas trabalham de topless em lojas, lava-carros e restaurantes. Ao mesmo tempo que outras mulheres estão buscando dessexualizar seu trabalho de forma que possam ser vistas como algo além de objetos sexuais, a demanda de mulheres na prostituição e “entretenimento” sexual está aumentando. A prostituição de mulheres pelos homens reduz as mulheres de quem abusam e todas as outras mulheres ao status de corpos a serem vendidos e usados. Como feministas podem esperar eliminar práticas abusivas de suas camas, ambientes de trabalho e infância se os homens podem simplesmente continuar a adquirir o direito a essas práticas na rua ou, como em Melbourne, em bordéis licenciados pelo Estado?
Striptease é um tipo de prostituição que tornou-se aceitável em países ricos como uma forma de “entretenimento”. (Em países pobres dependentes de turismo sexual, toda prostituição é vista como entretenimento.) Junto de outras mulheres da Liga Contra o Tráfico de Mulheres, eu recentemente visitei uma boate de striptease em Melbourne chamada A Galeria dos Homens. Umas 20 ou 30 mulheres estavam “dançando” em cima de mesas. Uma fileira de homens – adolescentes de bairros nobres, homens que pareciam palestrantes e professores de faculdade, avôs, turistas – estavam sentados a essas mesas com seus joelhos escondidos sob elas. Geralmente em duplas, esses homens requisitavam à mulher que tirasse a roupa. Ao fazer isso, ela apoiava suas pernas nos ombros dos homens, ginasticamente mostrando-lhes sua genitália depilada, de frente e de costas e em posições diferentes por 10 minutos enquanto os homens colocavam dinheiro em sua cinta-liga. A genitália da mulher ficava a centímetros do rosto dos homens, e eles olhavam fixamente, suas faces com uma expressão de prazer admirado e culpado, como se eles não pudessem acreditar que possuem tal domínio. Será que os homens estavam excitados sexualmente pela incitação de seu status fálico dominante? Será que a simples exibição da genitália feminina, que demonstra o status subordinado das mulheres, era excitante por si só? Para nós observadoras mulheres, era difícil compreender a excitação e entusiasmo dos homens. Muitos deles deveriam ter filhas adolescentes, não diferentes daquelas mulheres, muitas das quais eram estudantes e cujas genitálias dançavam perante seus olhos hipnotizados.
A dança de striptease nos ensina algo que devemos entender sobre “sexo” como construção da supremacia masculina: Os homens se unem e criam vínculos através da degradação compartilhada das mulheres. Os homens que frequentam esses clubes aprendem a acreditar que mulheres adoram seu status de objeto sexual e adoram provocar sexualmente enquanto são examinadas como escravas em um mercado. E as mulheres, como eles nos dizem, simplesmente não se envolvem no que estão fazendo.
Razão Número 3
Lésbicas têm imitado homens gays.
O questionamento feminista do modelo sexual da prostituição tem encontrado resistência especialmente por parte de muitos homens gays e lésbicas que os imitam. Como Karla Jay escreve, aparentemente de forma não crítica, em Dyke Life:
“Atualmente, lésbicas estão no limite do radicalismo sexual… Algumas lésbicas agora reivindicam o direito a uma liberdade erótica que já foi associada a homens gays. Algumas cidades grandes possuem clubes de sexo e bares de sadomasoquismo para lésbicas, e revistas e vídeos pornográficos produzidos por lésbicas para outras mulheres têm proliferado nos Estados Unidos. Nossa sexualidade tornou-se tão pública quanto as tatuagens e piercings em nossos corpos”.
Na cultura gay masculina nós observamos o fenômeno de uma sexualidade de automutilação e escravidão, de tatuagem, piercing e sadomasoquismo, transformada no próprio símbolo do que significa ser gay. Interesses comerciais gays investem de forma pesada na exploração dessa sexualidade de opressão como constitutiva da identidade gay. Grande parte do poder do pink money gay desenvolveu-se a partir do fornecimento de locais para eventos, bares e saunas nos quais a sexualidade da prostituição pudesse ser praticada, embora atualmente na maioria das vezes não paga. A influência cultural da resistência masculina gay aos questionamentos feministas da pornografia e prostituição tem sido profunda, financiada fortemente na mídia gay pela publicidade da indústria do sexo gay.
Alguns homens gays contestaram a sexualidade de dominação/submissão que prevalece na comunidade gay masculina, mas poucos até agora se aventuraram a publicar suas ideias a fim de não provocar a ira de seus irmãos. Homens gays, criados na supremacia masculina, ensinados a venerar a masculinidade, também precisam lutar para superar sua erotização das hierarquias de dominação/submissão se eles desejam se aliar ao feminismo.
O sexo da prostituição é central à construção da identidade gay devido ao papel da prostituição na história gay. Tradicionalmente, a homossexualidade masculina era expressa, por homens de classe média, através da compra de homens e garotos mais pobres – como foi feito por Oscar Wilde, Andre Gidé, Christopher Isherwood. Esse não era o modelo da prática lésbica.
Na década de 1980, à medida que as lésbicas perderam a confiança nas suas próprias opiniões, forças e possibilidades – uma vez que o feminismo foi atacado e a indústria do sexo se fortaleceu enormemente – muitas tomaram os homens gays como os seus modelos e começaram a se definir como “párias sexuais”. Elas desenvolveram uma identidade completamente contrária àquela do feminismo lésbico. Feministas lésbicas celebram o lesbianismo como o apogeu do amor entre mulheres, como uma forma de resistência a todas as práticas e valores da cultura supremacista masculina, incluindo a pornografia e a prostituição. As lésbicas liberais que vieram a público com o intuito de caluniar o feminismo dos anos 80 atacaram as feministas lésbicas por “dessexualizarem” o lesbianismo e optaram por se identificar como “pró sexo”. Mas as práticas dessa postura “pró sexo” acabaram por replicar a versão do lesbianismo que foi tradicionalmente oferecida pela indústria do sexo. As admiráveis novas lésbicas “transgressoras” eram as mesmas construções sadomasoquistas e butch/femme que já têm sido por muito tempo constituintes básicos da pornografia masculina heterossexual.
Essas lésbicas adotaram as práticas da indústria do sexo como constitutivas de quem elas realmente são, a fonte de sua identidade e de seu ser. Porém, a todo tempo elas se sentiam deficientes, uma vez que seu ideal de sexualidade radical e vigorosa, praticada por alguns homens gays, parecia sempre fora de alcance. Em publicações como a revista Wicked Women de Sydney, no trabalho de Cherry Smyth e Della Grace no Reino Unido e Pat Califia nos Estados Unidos, essas lésbicas lamentavam suas inadequações no sexo em banheiros, nos encontros casuais, em conseguirem sentir-se sexualmente atraídas por crianças. Terapeutas sexuais para lésbicas, como Margaret Nicholls, tornaram-se parte importante de uma nova indústria do sexo lésbico.
Atualmente há uma tendência em revistas feministas e nas revistas femininas de representar a sexualidade lésbicas da prostituição como um prato tentador para mulheres heterossexuais provarem e consumirem. Lesbianismo “transgressor”, derivado da indústria do sexo e mimetizando a cultura masculina gay, é agora apresentado como uma sexualidade “feminina” progressiva, um modelo de como mulheres heterossexuais poderiam e deveriam ser.
Razão Número 4
Subordinar-se pode ser excitante.
Não existe um prazer sexual “natural” que pode ser liberado. Aquilo que provê sensações sexuais a homens ou mulheres é construído socialmente a partir da relação de poder entre homens e mulheres, e isso pode ser mudado. No sexo, a própria diferença entre homens e mulheres, supostamente tão “natural”, é de fato criada. No “sexo”, as próprias categorias “homens”, pessoas com poder político, e “mulheres”, pessoas da classe subordinada, tornam-se carne. O sexo é tampouco uma mera questão privada. Na concepção masculina liberal, o sexo foi relegado à esfera privada e visto como um domínio de liberdade pessoal no qual as pessoas podem expressar seus desejos e fantasias individuais. Mas a cama está longe de ser privada; ela é uma arena na qual a relação de poder entre homens e mulheres é atuada de forma mais reveladora. A liberdade ali é usualmente a dos homens de realizarem-se através de e nos corpos das mulheres.
Sentimentos sexuais são aprendidos e podem ser desaprendidos. A construção da sexualidade em volta da dominação e submissão é suposta como “natural” e inevitável porque homens aprendem a operar o símbolo de seu status de classe dominante, o pênis, em relação à vagina de forma que assegure o status subordinado da mulher. Nossos sentimentos e práticas do sexo não podem ser imunes a essa realidade política. E eu sugiro que é a afirmação dessa relação de poder, a asserção de uma distinção entre “os sexos” por meio de comportamentos de dominação/submissão que proporcionam ao sexo sua saliência e a intensa excitação geralmente associada a ele na supremacia masculina.
Desde o começo dos anos 70, teóricas feministas e pesquisadoras têm revelado a extensão da violência sexual e de como a vivência e o medo dela castram as vidas e oportunidades das mulheres. O abuso sexual infantil diminui a habilidade de mulheres de desenvolver relações fortes e afetuosas com seus corpos e com outras pessoas, e criar confiança para enfrentar o mundo. O estupro na idade adulta, incluindo estupro no casamento e namoro, produz efeitos semelhantes. Assédio sexual, voyeurismo, exposições e perseguições diminuem as oportunidades igualitárias das mulheres na educação, no trabalho, em suas casas, nas ruas. Mulheres que foram usadas na indústria do sexo desenvolvem técnicas de dissociação para sobreviver, uma experiência compartilhada por vítimas de incesto, e lidam com danos à sua sexualidade e relacionamentos. A consciência da ameaça suprema obscurecendo as vidas das mulheres, a possibilidade do assassinato sexual, nos é exposta regularmente através de manchetes de jornais sobre as mortes de mulheres.
Os efeitos cumulativos de tais violências geram o medo que faz com que as mulheres limitem aonde elas vão e o que fazem, ter o cuidado de olhar para o banco de trás do carro, trancar portas, usar roupas “seguras”, fechar cortinas. Como mostram estudos feministas como o de Elizabeth Stanko em Everyday Violence (1990), mulheres têm consciência da ameaça de violência masculina e modificam suas vidas por conta desse medo, mesmo que elas não tenham vivenciado um assédio mais grave. Em contraste com essa realidade cotidiana das vidas das mulheres, a noção de que um orgasmo “em qualquer circunstância” poderia aniquilar esse medo e vulnerabilidade reafirmada é talvez a falácia mais cruel do pseudofeminismo.
A violência sexual masculina não é trabalho de indivíduos psicóticos, mas o produto da construção normalizada da sexualidade masculina em sociedades como a dos Estados Unidos e Austrália atualmente – como a prática que define o status superior dos homens e subordina as mulheres. Se nós realmente queremos acabar com essa violência, não devemos aceitar essa construção como o modelo do que “sexo” realmente é.
O prazer sexual para mulheres é uma construção política também. A sexualidade feminina bem como a masculina foi forjada no modelo de dominação/submissão, como um artifício para satisfazer e servir à sexualidade construída nos homens e para eles. Enquanto que garotos e homens foram encorajados a direcionar todos os seus sentimentos à objetificação do outro e são recompensados com o “prazer” pela dominação, mulheres aprenderam seus sentimentos sexuais em uma situação de subordinação. Garotas são treinadas através de abuso sexual, assédio sexual, e desde muito cedo com encontros sexuais com garotos e homens assumindo um papel sexual reativo e submisso. Nós aprendemos nossos sentimentos sexuais da mesma forma que aprendemos outras emoções, em famílias de dominação masculina e em situações nas quais nós não possuímos poder, cercadas de imagens de mulheres como objetos na publicidade e em filmes.
O maravilhoso livro de 1994 escrito por Dee Graham, Amar para Sobreviver, retrata a heterossexualidade feminina e a feminilidade como sintomas do que ela chama de Síndrome de Estocolmo Social. Na apresentação clássica da Síndrome de Estocolmo, reféns aterrorizados criam vínculo com seus captores e desenvolvem cooperação submissa a fim de sobreviver. Manuais para aqueles que podem ser feitos reféns, como aquele que me foi dado quando eu trabalhei numa prisão, descrevem táticas de sobrevivência que lembram os conselhos oferecidos em revistas femininas sobre como conquistar homens. Se você for tomado como refém, dizem esses manuais, você deve falar sobre os interesses e família do captor para fazê-lo compreender que você é uma pessoa e ativar sua humanidade. A Síndrome de Estocolmo desenvolve-se naqueles que temem por suas vidas, porém dependem de seus captores. Se o captor demonstra qualquer gentileza, mesmo quando mínima, é provável que o refém desenvolva um vínculo com seu captor até mesmo ao ponto de protegê-lo de perigos e adotar plenamente seu ponto de vista acerca do mundo. Graham define a violência sexual rotineira que as mulheres vivenciam como “terrorismo sexual”. Em face desse terror, Graham aponta, mulheres desenvolvem Síndrome de Estocolmo Social e criam vínculos com homens.
Uma vez que a sexualidade feminina se desenvolve nesse contexto de terrorismo sexual, nós podemos erotizar nosso medo, nosso vínculo aterrorizado. Toda excitação sexual e liberação não é necessariamente positiva. Mulheres podem ter orgasmos ao serem sexualmente abusadas na infância, no estupro ou na prostituição. Nossa linguagem possui apenas palavras como prazer e gozo para descrever sentimentos sexuais, e nenhuma palavra para descrever os sentimentos que são sexuais mas dos quais não gostamos, sentimentos que vêm da experiência, sonhos ou fantasias sobre degradação ou estupro e que causam angústia apesar da excitação.
O “sexo” promovido por revistas femininas e até mesmo feministas, como se esse fosse dissociado da realidade do status subordinado da mulher e experiência de violência sexual, não oferece nenhuma esperança de desconstrução e reconstrução das sexualidades tanto masculinas como femininas. Sadomasoquismo e cenas de “fantasia”, por exemplo, nos quais as mulheres procuram se “perder”, são frequentemente utilizados por mulheres que foram abusadas sexualmente. A excitação orgástica experimentada nesses cenários simplesmente não consegue ser sentida nos corpos dessas mulheres se e quando elas permanecem alertas e conscientes de quem elas realmente são. O orgasmo da desigualdade – longe de encorajar as mulheres à busca da criação de uma sexualidade proporcional à liberdade que feministas visualizam – simplesmente recompensa mulheres com o prazer da dissociação.
Muitas mulheres, incluindo feministas, limitaram suas visões de como tornar as mulheres livres e decidiram focar-se em ter orgasmos mais poderosos de qualquer forma possível. A busca pela orgasmo da opressão funciona como um novo “ópio para as massas”. Ela desvia nossas energias das lutas necessárias contra a violência sexual e a indústria globalizada do sexo. Questionar-se sobre como esses orgasmos são experimentados, o que significam politicamente, se são obtidos através da prostituição de mulheres na pornografia, não é fácil, mas também não é impossível. Uma sexualidade de igualdade adequada à nossa busca pela liberdade ainda precisa ser construída e defendida se nós desejamos libertar as mulheres da sujeição sexual.
A habilidade de mulheres de erotizar sua própria subordinação e “gozar” a partir da sua própria degradação e de outras mulheres ao status de objeto impõe um grande obstáculo. Enquanto mulheres receberem alguma recompensa no sistema sexual atual – enquanto elas sentirem prazer dessa forma – por que elas desejariam mudar? Eu sugiro que é impossível imaginar um mundo no qual mulheres são livres ao mesmo tempo que se protege a sexualidade baseada precisamente na sua ausência de liberdade. Nosso impulso sexual deve se igualar ao nosso entusiasmo político pelo fim de um mundo sustentado por todas as hierarquias abusivas, incluindo raça e classe. Somente uma sexualidade de igualdade, e nossa habilidade de visualizar e batalhar por tal sexualidade, torna a liberdade das mulheres possível.
- Tradução livre do artigo publicado em 1996 na revista On The Issues. Disponível em:
https://ontheissuesmagazine.com/feminism/how-orgasm-politics-has-hijackedthe-womens-movement/ ↩︎ - Importante revista feminista liberal estadunidense. ↩︎